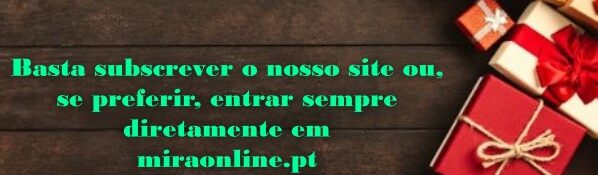Muitas mensagens de apoio à União Europeia, muitas canções novas, e êxitos antigos com caras lavadas. Os U2 voltaram a Portugal para o primeiro de dois concertos esgotadíssimos na Altice Arena, em Lisboa, e não deixaram quaisquer créditos por mãos alheias. Não é à toa que muitos dizem deles o que para outros é uma verdade há muito conhecida: das melhores bandas do mundo.

Reza a lenda que em 1980, poucas semanas após a morte prematura de Ian Curtis, Bono passou pelos estúdios da Granada TV, em Manchester, com uma promessa: a de vir a ser o melhor performer da sua geração. O primeiro era para o jovem irlandês de apenas 20 anos o número um, pelo que ele não poderia aspirar a ser mais que o número dois. Mas a tragédia de um foi a oportunidade do outro; com Curtis e os Joy Division fora de cena, os U2 tinham um caminho enorme e difícil à sua espera, mas toda a ambição do mundo.
Esta lenda foi contada por uma outra, Tony Wilson, jornalista, empresário, promotor, cabecilha da Factory e da famosa Haçienda e que em 1999 revelou este mesmo encontro ao jornal britânico The Sunday Times. No texto, que serviu para homenagear os irlandeses e destacá-los como o melhor produto saído do período pós-punk, Wilson escreveu o seguinte: «99% das bandas querem estar em cima do palco porque gostam de lá estar, querem ser estrelas pop. Os restantes 1% fazem-no porque não tiveram escolha. Os Joy Division não tiveram escolha, os U2 não tiveram escolha».
De facto, e olhando para a vasta carreira dos U2 – que já soma mais de 40 anos – percebe-se que eles não tiveram grande escolha; estavam realmente destinados a ser uma das maiores bandas do mundo, autores de canções que independentemente do ano em que foram compostas continuam a ressoar pelas paredes do tempo e da história do rock n’ roll. Sobretudo da do rock n’ roll versão pós-punk, circuito do qual saíram mas o qual nunca abandonaram, consciente ou inconscientemente.
Basta enumerar, resumidamente, todos os passos que tomaram até aqui chegar: do primeiro single internacional, ’11 O’ Clock Tick Tock’, produzido por Martin Hannett (lá, está, um dos espetros por detrás dos Joy Division) até “Boy”, o seu álbum de estreia; da melancolia e raiva pacifista de “War” (1983) até ao momento no Live Aid (Wembley, 1985) onde se transformam em estrelas; da beleza melódica e a preto-e-branco de “The Joshua Tree” (1987) até “Achtung Baby” (1991) e a icónica Zoo TV Tour, onde Bono gera dois filhos bastardos, os alter-egos The Fly e MacPhisto; da experimentação em “Pop” (1997), passando pelos êxitos radiofónicos que foram “All That You Can’t Leave Behind” (2000) e “How To Dismantle An Atomic Bomb” (2004); chegando até aos dois tomos com os quais pareceram querer fechar um círculo, “Songs of Innocence” (2014) e “Songs of Experience” (2017).
O que os U2 perderam em inocência ganharam em experiência. Uma experiência que resulta em alguns dos mais impressionantes espetáculos rock ao vivo, que não poderiam ser replicados ou sequer existir caso os irlandeses não tivessem dentro deles a chama necessária à sua execução. A suposição pode ser algo muito perigoso, mas a curiosidade leva a melhor de nós: que aconteceria se Bono se tivesse mentalizado de que seria para sempre o “número dois”? Estaríamos aqui, envergando t-shirts negras com o nome da banda, rodeando a FIL à espera de entrar na Altice Arena, aplaudindo e gritando a plenos pulmões os versos de ‘Sunday Bloody Sunday’?
Não vale a pena dar resposta. Fiquemo-nos pelo presente, mesmo que os concertos dos U2 nesta sua nova digressão olhem bem para o seu passado. Tanto, que por vezes quase parece tratar-se de paródia, ou de auto-comiseração. Como quando apresentam ‘I Will Follow’, o seu primeiro grande êxito, no tempo em que eram “apenas” mais uma banda à procura de um lugar ao sol: «Somos uma pequena banda chamada U2, e esta é uma canção nova». Ou quando, num curto interregno entre as mudanças de palco, exibem uma pequena BD-vídeo na qual explicam, muito sucintamente, que nos anos 90 se aproximaram demasiado desse mesmo sol… O que poderia ter tido consequências desastrosas. O seu “momento ‘Vertigo’”, como lhe chamou Bono.
Escreve-se “concertos” porque o que outrora seria uma surpresa hoje já não tem, inevitavelmente, a mesma magia. A Internet matou a expetativa. Bastava ir ao YouTube, ao Setlist.fm, à Wikipedia e aos websites de jornais de todo o mundo para saber exatamente aquilo que nos esperava muito antes de entrarmos numa Altice Arena completamente esgotada. E a própria banda não oferece – ou não quer oferecer – grandes surpresas ao seu público; toda a digressão foi cuidadosamente planeada do início ao fim. Cada minuto, mesmo segundo, foi pensado ao pormenor. Não pode haver falhas. A “experiência” assim o dita. Uma banda inocente permite-se improvisar; uma banda como os U2 sabe que qualquer parafuso solto pode significar a morte do artista. Ainda para mais numa época em que os há tantos…
Repetindo: os U2 estavam destinados a ser uma das maiores bandas do mundo. Com a adenda: não querem sair desse pedestal tão facilmente. Apesar das críticas, que as há, algumas mais sensatas do que outras – como o facto de nenhum dos seus discos mais recentes ter o mesmo peso, ou conter a mesma faísca, que os labores de outrora. Os fãs sabem-no perfeitamente, mas aceitam-no; não recordamos Eusébio pelos golos que falhou e sim pelos que marcou. E aceitam-no tanto que vão aplaudindo de forma cada vez mais feroz, assim que se aproxima a hora indicada para o início do espetáculo (ainda teriam, no entanto, de esperar mais 22 minutos).
Tal não parece, no entanto, ter sucedido por falta de tentativa. Porque ouvimos “The Blackout”, uma das canções de “Songs of Experience”, e pasmamo-nos com aquela torrente de ruído e com riffalhada da grossa, logo após termos sido bombardeados com o que não podemos de forma alguma esquecer: o fantasma das guerras que assolaram a Europa. De Berlim a Colónia, de Londres a Lisboa (sendo que foram muitos os sorrisos e aplausos quando Lisboa aparece no ecrã, com imagens de 1926, por parte de quem não percebeu que antes do patriotismo palerma tem que haver noção). Guerras provocadas por ditadores, que no mundo real não deveriam ser mais que clones de Charlie Chaplin. «Mais que de máquinas, precisamos de humanidade», dizia o ator em 1940. Tantos anos depois e ainda tem razão…
Numa Altice Arena dividida a meio para lembrar os muros que separaram e continuam a separar povos de todo o mundo, seja neste continente ou noutro, os U2 começam por detrás de gigantescos ecrãs e terminam no palco, já à vista de todos, em ‘Lights of Home’, a segunda canção do alinhamento. Terminam, ou quase; Bono permanece na plataforma movível, aproxima-se de um público que é seu, ajoelha-se em reverência. Baixaria o rosto por mais alguns momentos ao longo das duas horas e pouco em que a banda irlandesa encantou o vasto público, mas nenhum tão pungente como este.
E porque é de pungência que se fala, chega-se a ‘Beautiful Day’ já com toda a gente de pé e com o vocalista a agradecer em seu nome e no dos colegas: «somos quatro tipos comuns que se tornaram extraordinários através da sua música e do seu público». Quatro tipos que mesmo hoje não deixam de dizer de onde vêm, de uma Irlanda que não há muito tempo se encontrava, também ela, assolada pela guerra. Uma Irlanda que poderia ser de paz e de sonhos adolescentes, como em ‘Cedarwood Road’, mas que viu morrer muitos dos seus filhos no “Domingo Sangrento” (30 de janeiro, 1972) de que fala a canção. Sem sectarismo: na óptica dos U2, britânicos e irlandeses foram ambos culpados da mesma violência.
Uma violência que parece perto, extraordinariamente perto, quando são replicadas em palco três explosões de carros-bomba de milícias paramilitares do Ulster, pouco antes de ‘Until the End of the World’. E que se afasta já na segunda parte quando Bono, encarnando MacPhisto, comenta em tom desconsolado que «não há fascistas por aqui», ao contrário do que fez em concertos na Alemanha e em França. Na mesma semana em que o Ministro do Exterior luxemburguês disse ao primeiro-ministro italiano exatamente aquilo que pensava das suas ideias anti-refugiados, a mensagem não poderia ser mais explícita: a Europa deve continuar a manter-se unida, tolerante e acolhedora. Outra coisa qualquer será sempre um risco enorme. No fim de contas, MacPhisto, o Diabo e o fascismo funcionam segundo os mesmos moldes: «é quando não acreditam que existo que faço o meu melhor trabalho»…
«É isto que somos», nós, Europa, as doze estrelas e os 28 países da União. «É isto que somos», paz, compreensão, tolerância, direitos dos refugiados, direitos das mulheres, direitos humanos. Os U2 sempre foram políticos, mas nos tempos que correm, com a extrema-direita sem medo de se mostrar ao mundo, a sua mensagem ganha todo um novo sentido de urgência. “Pride (In the Name of Love)” dá aos contestatários de agora e aos do futuro um lema: «Recusamo-nos a odiar porque sabemos que o amor fará um serviço melhor». Recusamo-nos a fingir que não somos irmãos de todas as bandeiras que desfraldam pelos ecrãs durante ‘Get Out of Your Own Way’. Irmãos destes quatro irlandeses, que ainda encontram espaço nas suas declarações para abençoar Lisboa, Cristiano Ronaldo, Eusébio e António Guterres.
Até final, ainda se ouviria ‘New Year’s Day’, com The Edge a oscilar por entre o sintetizador e a guitarra, um curto trecho do 4º movimento da 9ª sinfonia de Beethoven (o ‘Hino À Alegria’, hino da Europa e da União) antes de ‘City of Blinding Lights’, uma mensagem da fadista Ana Moura anti-pobreza e anti-sexismo (sendo que a pobreza é também ela sexista), e o português arranhado de Bono: «Lisboa, foi muito fixe, divertimo-nos imenso». No encore, seria ‘One’ a colocar toda a Altice Arena a cantar em uníssono, terminando tudo com uma defesa à comunidade LGBTQ sob a forma de ‘Love Is Bigger Than Anything In Its Way’ e uma saída abrupta, pelas laterais, de Bono logo após ’13 (There Is a Light)’. Duas horas e pouco mais de um concerto há muito esgotado e fica a certeza: enquanto houver força nos braços dos U2, seremos muitos. Seremos unidos. Europeus. E seremos, humildemente, humanos.
Paulo André Cecílio / MadreMedia
Fotos: Rita Sousa Vieira